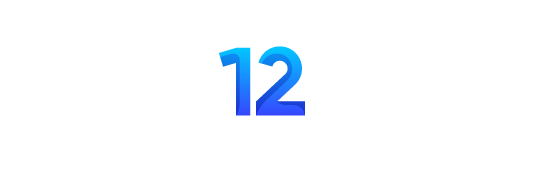Magda Robalo Correia e Silva, de 57 anos de idade, ex-Diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Mundial da Saúde na Região Africana, actual Presidente do Comité de Ética e Governação do Fundo Mundial para o VIH/SIDA, Tuberculose e Paludismo, Membro do Grupo Covid-África da Academia Francesa de Medicina e ex-Ministra da Saúde Pública, está à frente do Alto Comissariado para a COVID na Guiné-Bissau há quase um ano. Nomeada para ajudar a travar o alastramento da pandemia, Magda Robalo garante que, como era de se esperar, a luta não está a ser fácil por várias razões, mas com destaque para o precário sistema de saúde, comportamentos desviantes de governantes e líderes de opiniões e a resistência da população em aceitar a existência da doença. Apesar de tudo isso, a Alta Comissária defende que as medidas que estão a adoptar têm contribuído bastante para reduzir tanto o alastramento como também as mortes.
Numa entrevista ao Jornal Última Hora, a Alta Comissária falou de todas as situações envolventes à sua chamada e gestão do Alto Comissariado até ao relacionamento com os técnicos. Começou por referir que, a entrada para as funções não foi fácil devido ao clima político na altura, mas aceitou, porque estava determinada a ajudar o país a prevenir-se de uma doença a todos os títulos grave e que ainda não tem cura. Depois falou das estratégias. Disse que eram difíceis de implementar todas elas, tendo em conta que os problemas e económicos e sociais que a aplicação das medidas acarretam para a sobrevivência das famílias. Relativamente às mortes, em traços gerais, a Alta Comissária entende que foram feitos esforços significativos, mas continua a alertar que, a precaridade do sistema de saúde, constitui um entrave e dificulta o acompanhamento dos dados. Contudo, acha que tanto a primeira como a segunda vaga da Covid-19 foram controladas e que a determinação do momento é para que a terceira não tenha impacto. Quanto às vacinas, a Alta Comissária garante que, todas as que foram ministradas aos cidadãos nacionais estavam dentro do prazo de validade e que o sistema foi montado para atender qualquer reacção resultante de um eventual efeito que possa causar.
Última Hora (UH) – Drª. Magda Robalo Correia e Silva, há um ano foi declarada a existência do vírus SARS-Cov-2 na Guiné-Bissau, três meses depois de estar a circular no mundo. Hoje, qual o balanço que pode fazer do combate à pandemia de COVID-19 no país?
Magda Robalo Correia e Silva (MRCS) – Obrigada pela oportunidade. Tal como em outros países do mundo, continuamos com os problemas da COVID-19. A COVID-19 no nosso país continua a ser um problema de saúde pública, e um problema económico e social como acontece noutras partes do mundo. Trata-se de uma doença que infelizmente ainda não tem cura, continua a alastrar, evoluindo por vagas. Uma doença que empobrece a população, porque mexe com o trabalho. Por isso, na Guiné-Bissau, a COVID-19 continua a ser não só um problema de saúde pública, mas também económico, social e político. Apesar de tudo istio, estamos focados no seu combate.

UH – Não foi pacífica a sua chamada para as funções de Alta Comissária. Saiu de um Governo deposto e no momento em que o partido contestava os resultados eleitorais. Sentiu isso e acha que beliscou o seu arranque como Alta Comissária?
MRCS – Não seria honesta se não reconhecesse aqui que foi uma situação que chamou alguma atenção da sociedade em geral e que foi uma decisão difícil para mim em particular. Não foi fácil lidar com aquela situação de vir liderar o Alto Comissariado por várias razões. A primeira razão foi a onda de críticas que referiu. A segunda era a incerteza da situação política que ninguém sabia como iria evoluir. A terceira era o facto de eu ser ministra do Governo saído das eleições e que tinha iniciado o processo de luta contra a Covid-19, cujas estruturas recém-estabelecidas foram todas desmanteladas pelas novas autoridades. Eram factos que para muitos podiam sustentar um não da minha parte. É importante sublinhar que fui chamada dois meses depois do nosso Governo ter sido destituído. Fui contactada pelo actual Presidente da República, para assumir essas funções e ele apresentou os seus motivos mais ligados a tecnicidade e não políticos. Eu e ele conversámos bastante sobre a situação política envolvente, as dúvidas por dissipar e o que é que se queria com a nova estrutura. Foram elaborados termos de referência detalhados para o Alto Comissariado, mas asseguro que aceitei com muita hesitação na altura.
UH – Mas aceitou porquê?
MRCS – Aceitei por obrigação profissional e determinação de ajudar o país a livrar-se de uma doença bastante grave e fatal que evoluía sob a forma de pandemia. Dizer aqui que aceitei por questões patrióticas seria para alguns uma justificação ligeira. O aparecer da pandemia na Guiné-Bissau foi uma situação extremamente difícil e só está a ser relativizada por quem não conhece os riscos de uma pandemia. Por quem não é técnico de saúde. Logo de início se apercebia que aquilo seria grave. Havia e continua a haver necessidade de congregarmos os nossos esforços. E eu mesma, depois de ter sido afastada como ministra, conhecendo a gravidade da situação em que estávamos metidos, sempre dei a minha contribuição. Opinei na comunicação social e nas redes sociais sobre as estratégias que estavam a ser adoptadas; com as minhas opiniões despertei algumas mentes e a própria população questionava certos métodos que estavam a ser utilizados. Aceitei porque, para quem é técnico de saúde, e que trabalhou muitos anos em saúde pública, era visível que as estratégias de combate à Covid não eram as melhores. A forma como foram geridos os primeiros casos condicionaram a evolução da pandemia. Porque em vez de isolar os infectados num espaço controlado pelas autoridades sanitárias, optou-se pelo chamado isolamento domiciliário, que depois revelou-se inadequado e inadaptado, porque daí houve alastramento. Enquanto Ministra da Saúde Pública, já tinha identificado no Hospital Nacional Simão Mendes, um bloco no qual, os doentes da COVID-19 ficariam isolados. Mas infelizmente o Governo seguinte não deu sequência a essa decisão no imediato. As intenções de confinar as pessoas em João Landim não se concretizaram. Houve depois a questão do Chá de Madagáscar e isolamento nos hotéis. Havia um problema de dados. E eu, enquanto alguém que sempre trabalhou à volta do sistema, sempre tinha acesso a certas informações do país, sub-regionais, continentais e até mundial sobre aspetos dos quais a população suspeitava, mas não tinha certezas, senti que algo devia ser feito. Pessoalmente tinha acesso às informações e a forma como os dados eram tratados. Sabia do risco que o país corria. E aquilo preocupou-me- e como estava preocupada, senti que, se fosse convidada não podia dizer não, só porque fazia parte do Governo demitido. Se dissesse não, acho que seria egoísmo da minha parte. Seria muito narcisista, não podia ceder ao sentimento de que por ter sido destituída não deveria ajudar a combater uma doença que nos podia matar e que ninguém sabia como iria evoluir. É este o meu entendimento. A segunda razão que me levou a aceitar é que a COVID-19 vinha como um tsunami para os países africanos e quase todos faziam previsões catastróficas devido à fraqueza dos sistemas de saúde em África. Á volta de tudo isso, senti que não tinha o direito de recusar de colocar à disposição do meu país, os conhecimentos acumulados sobre a saúde pública, a gestão de epidemias e a mobilização da comunidade internacional. Havia necessidade de colaborar e aproximar-se da Comunidade Internacional que também estava reticente face às estratégias.
Por último, aceitei porque em última análise me apercebi que, se eventualmente a situação viesse a complicar, nem eu e a minha família poderíamos escapar. A minha vontade desde sempre até à data presente é salvar a população e colocar à disposição do país toda a experiência acumulada. Aliás, como aceitei voltar depois das eleições de 2019 a convite do presidente do PAIGC com a vontade de ajudar, foi o mesmo espírito que me moveu a ir para o Alto Comissariado para a COVID-19. Quando o Engº. Domingos Simões Pereira me convidou para vir fazer parte do Governo saído das eleições de 2019, tinha outros projectos na vida, mas disse a mim, se o país te chamar tens que responder. Entendi que, estando na Guiné-Bissau e tendo sido convidada, não podia recusar. Aliás, veja só um paradoxo. O actual Director-Geral da OMS foi meu chefe. Qual seria a resposta que podia dar, se um dia ele me perguntasse da contribuição que estava a dar para o país para o combate à pandemia? Acha que teria peso, se dissesse que fiquei no meu canto, porque correram com o Governo do qual gfazia parte? Trabalhei 20 anos na saúde pública internacional, não estaria de consciência tranquila se a minha resposta tivesse sido não, apesar das circunstâncias políticas.
Tenho consciência que o único e possível entrave para muitos era a situação política que nem eu também estava à espera. Mas quando se faz uma análise geral, nota-se que há motivos para estar aqui.
UH – A primeira fase da COVID na Guiné-Bissau foi algo controlada. O vírus infectou pouco num ritmo lento e causou poucas mortes. Porquê?
MRCS – Não foi bem assim, mas as explicações são várias. Houve um grande esforço do Alto Comissariado no combate. O número aparentemente baixo de casos de infecção e de mortes por covid na Guiné-Bissau não podia ser assim tão alarmante, porque lamentavelmente não temos condições para fazer testes em massa; para fazer autópsias e muito menos para conhecer as possíveis causas de morte das pessoas fora das instituições de saúde – que são a grande maioria. No nosso país não é obrigatório notificar os óbitos e sepultar nos cemitérios. Há quem decida sepultar em casa e nem há registo das entidades competentes sobre as vítimas mortais. Acredito que, se tudo isso fosse controlado, teríamos um número de mortes bastante mais elevado. De qualquer maneira, a exemplo daquilo que aconteceu noutros países do continente africano, o vírus não fez grandes estragos no nosso país comparado com os países europeus e do continente americano. Cabo Verde por exemplo, registou uma pandemia forte. Nós tivemos sim, pouca penetração do vírus nas ilhas, mas no continente, Bissau, Biombo e Bafatá e Quínara, houve muita Covid-19. Se formos fazer um rácio ou comparação das mortes por densidade populacional, chega-se rapidamente à conclusão de que morreu um número elevado de pessoas por covid em Bafatá em relação a Bissau. Levámos bastantes meses para controlar a primeira vaga pelo que dizer que foi fácil, é ligeiro. Em Setembro sim, estivemos um pouco confortáveis e hoje a Guiné-Bissau regista cerca de 70 vítimas mortais de covid-19.
UH – Quando todos pensavam que o vírus estava controlado entre Novembro e Dezembro de 2020 ele voltou a disparar. Tem alguma explicação?
MNCR – Tem explicação sim. É a forma como pandemias dessa natureza circulam. Aliás, é um comportamento característico dessa pandemia. Neste momento, o mundo está a registar a terceira vaga e nós estamos no declínio da segunda vaga. A terceira vaga de covid na Guiné-Bissau poderá acontecer daqui a um ou dois meses. A julgar pela tendência atual, a Guiné-Bissau costuma registar os seus casos um ou dois meses depois do aumento de casos na Europa. A explicação é simples: a ligação tanto cultural e social e a proximidade geográfica com alguns países europeus. Por exemplo, a pandemia teve início em Dezembro de 2019 na China; a Europa foi atingida e conheceu a sua primeira vaga cerca de um mês e meio depois. E África só em Fevereiro e março para a Guiné-Bissau. Abril e Maio foi o nosso pico. A explicação técnica, também é simples. Quando as pessoas chegam ao país relacionam-se com os residentes o que transmite a infeção e dá início ao aumentam do contágio. Ao fim de cerca de 14 dias começamos a registar os picos. Neste momento, muita coisa constitui dificuldade para podermos ter uma ideia global da nossa situação. Há greve no sector da saúde o que reduz bastante a nossa capacidade de recolha de dados. Estive a analisar os últimos gráficos com dados fornecidos pela equipa de epidemiologia, e, tudo está claro. Na semana passada testámos nos nossos centros de saúde apenas 171 pessoas. Há seis semanas, testámos 1271 pessoas nas nossas unidades sanitárias. Os números de pessoas testadas foram caindo com o avançar da greve. Neste momento não estamos a ter os dados a nível nacional, algumas regiões têm feito retenção de dados. Entre Janeiro e Fevereiro o vírus evoluiu, mas neste momento está em declínio.
UH – Está a dizer que as paralisações no sector da saúde estão a ser prejudiciais aos trabalhos do AC?
MRCS – Absolutamente. O rastreio de viajantes dá ideia da circulação do vírus entre os países. Mas a real situação da pandemia é detectada nas amostras que são recolhidas nos centros de saúde. É ali que as pessoas fazem consultas por razões de saúde, apresentam-se para tratamento e são as suas amostras que permitem conhecer a evolução da pandemia. A recolha de amostras tem vindo a diminuir drasticamente por causa da greve e não nos permite ter uma ideia clara da situação. Mas como a segunda vaga teve início logo depois do período festivo, estamos neste momento na fase descendente da curva da segunda vaga. Devemos continuar vigilantes, porque a terceira vaga já está em curso noutras partes do mundo. Na segunda-feira, a OMS informou que há neste momento um crescimento exponencial da pandemia. Esta semana, o mundo registou mais de 4 milhões de infecções, quando no período homólogo no ano passado eram cerca de 500 mil por semana.
UH – Mas também podemos admitir falha das autoridades na adopção de medidas de combate? O AC não tem poderes suficientes ou não é acompanhado pelo Governo nas medidas restritivas?
MNCR – Nesta última parte, temos qwue sublinhar a colaboração das autoruidades, sobretudo as policiais e demais estruturas do Governo. É importante esclarecer aqui que o AC não é uma instituição com a vocação de impor nada ou com poderes de sanções. Isso cria confusão a muita gente. O AC é sobretudo uma instituição de recolha e análise de dados, de informação e inteligência estratégica, definição de normas e regulamentos técnicos, elaboração de estratégias de resposta, articulação de recomendações para o controle da pandemia, coordenação das intervenções dos diferentes atores, planificação e mobilização de recursos. É o Governo que tem autoridade e legitimidade para implementar as medidas. É ele que tem condições de impor medidas a restaurantes e demais espaços de aglomeração. Tudo isso é feito com base nas recomendações do AC. Muitos pensam que é o Comissariado que deve executar as suas próprias recomendações. Não é assim. Agora, não constitui segredo que o Governo tem experimentado dificuldades em implementar as medidas recomendadas pelo AC. Podemos pensar que tal se deve a falta de uma abordagem mais rigorosa e holística. Mas no fundo, acredito que todos nós temos noção de que estamos a viver num país em que a ordem, a disciplina e a autoridade do Estado não existem. Quando se faz face a uma pandemia, consegue-se perceber se existe ou não lei e ordem. Sente-se que o Governo tem dificuldades em implementar as suas instruções a não ser que use a força, o que não é recomendável nem desejável. Vários países enfrentam este problema, e tem a ver com as restrições de liberdade causadas pelas medidas de controle da pandemia.

UH – A Alta Comissária acredita que as estratégias de combate à Covid são as mais adequadas, ou precisava de outro impulso?
MNCR – Precisavam de mais impulso. E vou explicar a razão. As nossas estratégias são reguladas em função da evolução da situação. Mas é importante saber que as estratégias que temos utilizado são as únicas possíveis e disponíveis. Primeiro, trata-se de uma doença nova; segundo, nunca é possível em países como a Guiné-Bissau, em virtude da nossa forma de relacionar com a doença e com as mortes, ter dados para certos trabalhos. Porque, se as recomendações fossem respeitadas, a situação seria mais controlada. Sobre as medidas de confinamento, é importante que se saiba que, só se consegue impô-las à população uma vez. É assim na Guiné-Bissau, é assim em qualquer parte do mundo. À segunda, há mais resistência. Não se pode fechar o povo por um período indeterminado. É preciso sempre que haja alternativa. E a covid é uma pandemia que veio mostrar os limites da aplicação de leis, e da restrição de liberdades e garantias. Muitos países, até os mais desenvolvidos não conseguem controlar isso de forma satisfatória. No final do ano passado, uma festa em França reuniu 3 mil pessoas e só dois a três dias depois é que a polícia descobriu e dispersou as pessoas. Covid é uma doença que ainda não tem cura. Ainda não dispõe de um medicamento de prevenção. Das poucas medidas restantes, quando se tira o confinamento é o uso de máscaras e proibição de aglomeração. Repito que é preciso reconhecer que falta rigor na aplicação de recomendações saídas do AC. Governantes e políticos acabam por ser os maiores violadores das recomendações que eles mesmos aprovaram no Conselho de Ministros. E quando é assim, a população deixa de acreditar na seriedade das mesmas. Porque alguns governantes, alguns políticos e alguns líderes de opinião, que deviam servir de exemplo para a população, acabam por cair no desleixo no comportamento e prejudicar o sistema de prevenção e resposta. É esse impulso que falta.
UH – As regiões nunca tiveram a necessária atenção…pela leitura de quem não é do sector?
MRCS – É Ilusão de quem pensa assim. Acabamos por cair naquilo que acontece na prestação de serviços na Guiné-Bissau. Todos devem deslocar-se a Bissau para tratar do passaporte ou ter uma consulta mais especializada. Nas regiões, não temos nenhum serviço bem desenvolvido. E daí, permita-me que faça esta advertência política: enquanto não realizarmos as eleições autárquicas para dar real autoridade autonomia às regiões, estes problemas irão continuar.
Mas no caso da covid, a situação em Bissau era tão preocupante, tão alarmante que de facto, todos os recursos mobilizados tinham de ser canalizados primeiro para Bissau. E uma das medidas para proteger as regiões na altura era a proibição da circulação para as regiões, a chamada cerca sanitária. Decidimos controlar os movimentos para as regiões para evitar o alastramento da covid para o interior do país. Infelizmente houve circuitos paralelos onde carros não oficiais deslocavam-se e com preços mais elevados que os transportes oficiais. Foi o que mais levou a covid para as regiões. Da nossa parte, quando tomámos aquelas medidas de prevenção, virámos para dar mais atenção às zonas onde havia mais casos. Portanto, o problema não foi falta de atenção para as regiões. O que aconteceu foi responder à medida dos problemas existentes e Bissau era o foco. Aliás, continua a ser o epicentro da doença no país, pelo que a maioria dos recursos são alocados aqui.
É importante referir aqui que, criámos mecanismos para fazer testes nas regiões para termos noção do que estava a passar. Fizemos formação nas regiões; descentralizámos a testagem. Mas digo mais uma vez que, para se lutar eficazmente contra a pandemia, é preciso repousar as intervenções num sistema de saúde e administrativo robusto. Se as estatísticas vitais do país notificassem todas as mortes, neste momento teríamos noção do número de vítimas por covid. O nosso sistema tem as suas deficiências pelo que torna-se impossível fazer milagres. Conseguimos credibilizar os testes na Guiné-Bissau. Antes eram três dias para se ter o resultado, agora não. São diários. Com dificuldades, isto é de sublinhar, conseguimos construir muita coisa até nas regiões.
UH – O combate à COVID tem tido alto e baixos nas estruturas intervenientes. No sector da saúde, para além da falta de infraestruturas, há um problema de qualificação e disponibilidade dos técnicos? Concorda?
MNCR – Sim. São problemas que a vista desarmada são constatados. Há falta de laboratórios em todo o país. Nas regiões, os laboratórios são esquecidos. São laboratórios com técnicas rudimentares, do século XX e nada de sofisticado. Há falta de pessoal qualificado. Não temos equipamentos. Vamos por exemplo falar de raio X. Para uma doença como a COVID que ataca os pulmões, não temos um aparelho de radiografia de qualidade, que é um instrumento essencial para o tratamento e diagnóstico dos doentes!!! É Estranho? Não é? Temos um hospital como o Simão Mendes, sem nenhum aparelho de radiografia de qualidade. Há tempos em que avaria, como no início da pandemia, o que limita bastante o diagnóstico. Há um problema de disponibilidade do oxigénio.
A especialidade tornou-se num grande assunto no país, depois da morte de um grande activista, mas era uma questão para se colocar há muito tempo. É um problema estratégico, um problema político, social e laboral.
A questão da greve. Neste país, as greves foram sempre para exigir o pagamento de salários e de carreiras. Mas acho que devemos ir além. Há pouco referi a morte do activista que despertou reivindicações sobre especialidades e formações. Quando os cirurgiões disseram que não voltariam a operar, porque não estão qualificados, estavam simplesmente a falar de um problema de base que o Estado tem que resolver. O país precisa de especialistas. Quando o país não tem especialistas, não tem pneumologistas, não tem anestesistas, como é que se pode ir para o bloco? Portanto, temos a obrigação de formar as pessoas. Quando um país não tem intensivistas, aqueles que reanimam pessoas quase mortas, é porque muita coisa falta. Porque quando temos alguém com paragem cardíaca, urge logo a intervenção de um intensivista. Precisamos de cuidados intensivos. Portanto, o nosso sistema de saúde tem carência de técnicos; tem carência de equipamentos; tem carência de manutenção de equipamentos. Há ainda carência de rigor; de ética; há carência de manuais, normas e protocolos; há falta de seguimento adequado dos doentes; há falta de profissionalismo, de verticalidade, há carência de boa fé e sobretudo carência de prestação de contas. Não se pode ter um hospital de referência onde se entra e sai sem qualquer controlo. Onde mortos desaparecem da morgue. Ninguém é responsabilizado. Há doentes que ficam internados durante vários meses. Os culpados não são os técnicos de saúde, mas sim os políticos e governantes. Mas em parte, os técnicos são culpados. Porquê? Porque acho que as reivindicações devem ser mais que pecuniárias. A questão da carreira é fundamental, mas sobretudo é necessário aplicar bem o que existe, lutar para fazer melhor com o que há e não dispersar esforços.
UH – Drª. Vamos falar da população, começando com a seguinte questão: sentiu que a população não aderiu à informação ligada à existência da doença. O que é que na sua opinião falhou?
MNCR – Sim. Não aderiu. Falou muita coisa. Não se conseguiu passar informações de forma coerente e eficaz do topo para as bases. Quando a pandemia de COVID teve início e ainda antes do AC ser estabelecido, eu já era crítica da estratégia de comunicação. Era importante a comunicação através dos órgãos de comunicação social sim, mas era necessário uma comunicação de risco e voltada para a mudança de comportamento. E isso é conseguido com rádios, comunicação inter-pessoal e djumbais em conjunto com os vários grupos populacionais, de forma a perceber as barreiras ou a percepção das pessoas. Achei que a mensagem de lavar as mãos, não chegava a toda gente. Por isso, era necessário uma comunicação de proximidade. Os técnicos de saúde deviam fazer contactos directos com a população para perceber melhor os seus medos e compreensão da doença. Criámos um grupo que tenta integrar os conhecimentos sobre a doença nos nossos padrões de vida quotidiana. Fizemos contactos e reuniões, sessões de formação com régulos, djambacusses, padres, imames, jovens, balobeiros, professores, mulheres, mas mesmo assim, temos problemas e défice de mudança de comportamento. Acho que os comportamentos não exemplares verificados na fase inicial da pandemia estão a constituir até agora, o maior obstáculo. A população põe em causa a existência da doença; questionam o ritmo das mortes e dizem que não conhecem nenhuma vítima mortal de covid, simplesmente porque certos comportamentos desviantes os motivam. São questões que a população levanta. Várias vezes aqueles que consigo ter acesso, lembro-lhes que, por questões de confidencialidade, não podíamos jamais apresentar alguém como doente de Covid sem a sua vontade, sem o seu consentimento. A seguir, assistimos aqui como foi tratado do assunto da primeira vítima de covid. São comportamentos que não ajudam na prevenção. Nós fomos praticamente obrigados a lutar contra aquele boato. Mas em todo o mundo, a covid é uma doença vítima de desinformação, ao ponto da OMS ter um programa para lutar contra a desinformação em torno da covid. As redes sociais são muito úteis para transmitir a informação ao mesmo tempo que contribuem muito para desacreditar as estratégias de combate. Veja só que neste momento de vacinas, já falam em seis mortes devido à vacina. Falso. Não há nada mais falso como este rumor. Por isso, achamos que temos que investir bastante na comunicação.
UH – Talvez por isso, chegámos a segunda vaga. O que é que temos? Ambas as variantes? E porquê?
MNCR – Temos mais a variante inglesa, com base no limitado número de amostras sequenciadas. Neste momento estamos na curva descendente da segunda vaga, de acordo com os dados, que são limitados. Volto a referir aqui que, as paralisações têm constituído problema para a colheita de dados representativos. Há países que neste momento estão numa terceira vaga e a nossa determinação é trabalhar para reduzir os seus efeitos quando cá chegar. Porque a forma como está a ser sentida, está provada que é uma pandemia que está a evoluir por vagas. A luta é para que não tenha tanto impacto. A segunda vaga se sentiu mais em Janeiro e Fevereiro. Em Março não tivemos dados suficientes para avaliar o impacto. No resto do mundo, a segunda vaga foi mais forte que a primeira. Aqui foi o contrário. Pode ser devido à menor colheita de dados devido à greve. Nitidamente na Guiné-Bissau a primeira vaga foi muito pior que a segunda. Presume-se que a terceira venha a ser pior que a segunda, por isso estamos a lutar. O mesmo cenário de evolução por vagas foi vivido nos países vizinhos como o Senegal e a Guinée-Conacri.
UH – Porquê é que não se confinou de novo e temos escolas encerradas e mercados abertos?
MRCS – O actual modelo não é assim de puro confinamento. São medidas restrivas inevitáveis para fazer face à doença. O encerramento dos mercados é complexo. Se encerrarmos os mercados, as consequências na vida das pessoas podem ser mais grave do que a própria covid. Por isso, da nossa parte, temos sempre o cuidado de fechar os mercados como último recurso. Portanto temos aqui um problema social e económico. Se radicalmente encerrarmos os mercados, as consequências não serão apenas em Bissau, mas também as regiões onde são levados ou trazidos produtos.
Escolas? Tivemos surtos em Janeiro e Fevereiro pelo que optamos por fechar as escolas. Os resultados são palpáveis. Eram focos de infecção e quando foram fechadas conseguiu-se controlar a propagação e melhorar as medidas de prevenção. Não obstante tudo isso, temos que reconhecer aqui que, a revolta popular sobre o encerramento das escolas era grande. As implicações económicas e sociais são várias. Muitos pais reclamavam que já haviam pago as propinas, pelo que as aulas deviam continuar. É uma não justificação, porque a saúde daquele aluno está sempre em primeiro lugar. Não podemos dizer a mesma coisa em relação às escolas públicas, porque estavam em greve e o impacto não era assim tão sentido. Havia outro problema de professores que recebiam em função das aulas dadas. Outro não problema, embora fizesse parte das estratégias de pressão contra o encerramento das escolas. Diziam que estava-se a tocar com famílias que tinham uma situação periclitante. Entre o controlo da doença e os riscos de convulsão social, o que é que devemos fazer? Este é um exercício permanente no combate à pandemia, sobretudo em contexto social e político frágil. É aqui que entra a nossa parte de avaliação social, epidemiológica, económica e política. Temos sempre que avaliar onde é que se pode apertar?
Mas devo dizer aqui que, fechar as escolas era imperativo e foi uma decisão que tentámos evitar até ao último momento. Quando concluímos que certas escolas deviam ser encerradas, a nossa decisão era mais que acertada. Os picos de infeção eram semelhantes aos existentes antes da reabertura das escolas em outubro. O que constatamos hoje é que, se não tivéssemos encerrado aquelas escolas, a situação seria bem pior. Mas é importante que a sociedade saiba que todas as medidas são ponderadas e chegámos aos encerramentos como última opção. Posso dar o exemplo de Bafatá onde tivemos alguns casos. Depois de um longo período de gestão, estivemos à beira de encerrar as escolas. E foi naquela situação que um alto dignatário religioso se infectou e aconteceu o que todos sabem.
Quando as aulas reabriram em outubro não se tinha feito o necessário trabalho de prevenção e re-organização na maioria das escolas. Não se reforçou as medidas de higiene, não se usa máscaras e durante o período em que as aulas foram suspensas, houve aceleração da oferta de máscaras e instalação de dispositivos para lavagem de mãos.
UH – Neste momento as vacinas estão a ser ministradas em alguns países africanos. Na Guiné-Bissau terminou no dia 9. O que pode dizer?
MRCS – É verdade que fizemos a administração de vacinas no Sector Autónomo de Bissau e na Região de Biombo. Foram 12 mil doses que recebemos através da União Africana via a África CDC. Foi um sucesso, porque se olharmos pelas resistências noutras partes do mundo, os números que conseguimos são encorajadores. Embora não tenhamos feito um estudo prévio, devo dizer aqui que, aquilo que ouvíamos relativamente à rejeição da vacina era assustador. Uma semana depois, os resultados mostram que a população aderiu à vacinação e esgotámos as 12 mil doses. Cerca de 12 mil, porque houve taxa de perda de cerca de 15%. Uma embalagem deve em princípio vacinar 10 pessoas, mas a taxa de perda faz com que não se chegue a esse número. E essas perdas se verificaram mais no primeiro dia. Mas essas perdas são normais. O resto que se diz é falso.
UH – Qual a vacina aplicada na Guiné-Bissau? Terá sido a tal que não serve?
MNCR – Longe disso. Uma aberração total. Como é que se pode pensar que uma estrutura como o Alto Comissariado patrocinaria a administração de vacinas falsas para a sua população? Há muita ligeireza nessa afirmação e ela só permanece, porque as pessoas não são responsabilizadas. E mais, quando estas afirmações são feitas por pessoas que não são técnicos de saúde. É verdade que a nossa vacina tinha uma validade até 13 de Abril, mas nós vacinámos até o dia 9 de Abril. Posso garantir aqui que, nenhum guineense recebeu vacina em risco. A vacina aplicada aos cidadãos na Guiné-Bissau é a Covishield, a versão da AstraZenecca produzida na Índia. A África do Sul comprou este lote produzido em outubro de 2020. Entretanto, descobriram que tinham uma variante do vírus que torna a vacina pouco eficaz e forneceram a mesma à União Africana (UA), através de um donativo da MTN. A Guiné-Bissau e vários outros países receberam este donativo da UA. O que posso assegurar é que, nenhum guineense recebeu alguma vacina fora do prazo.Todas as vacinas ministradas aos cidadãos nacionais estavam dentro do prazo de validade. Sabemos hoje que países como o Sudão do Sul e o Malawi também receberam esta oferta de vacinas através da UA e não conseguiram utilizar vários milhares de doses antes do prazo de validade, o que não foi o caso da Guiné-Bissau.
UH – Como é que o AC vai acompanhar os efeitos colaterais da vacina?
MRCS – Temos uma equipa que se ocupa de efeitos adversos que surgem depois da vacinação. Temos um assistente técnico internacional e vários médicos nacionais envolvidos neste processo. Esta equipa tem uma ambulância à disposição com todos os equipamentos necessários. No momento da vacinação, os devidos cuidados são tomados. Em cada cartão de vacina, consta o número de telefone de um membro da equipa de seguimento dos efeitos adversos. Os vacinados são instruídos a estarem vigilantes sobre eventuais sintomas. E, em caso de alguma reacção negativa podem contactar o membro cujo número de telefone está inscrito no cartão. Já foram atendidas cerca de 40 pessoas com queixas ligeiras.
Chegaram-nos informações de um jovem de 30 anos que faleceu dias depois de ter sido vacinado. Mas ninguém tem elementos factuais para provar que morreu por causa da vacina, porque não se fez autópsia. Pelas informações que nos chegaram, a vítima tinha sintomas que não valorizou, porque tinha a impressão de que era passageiro. Quando decidiu ir para hospital, quase já não havia mais nada a fazer. Mas não há evidência de que esses sintomas seriam relacionados com a vacina.
UH – É do conhecimento público que, quem tomou a primeira dose deve receber a segunda…
MNCR – Sim. A vacina da AstraZeneca precisa de duas doses. A segunda dose é dada dois a três meses depois da primeira dose. No dia 13 de Abril recebemos as primeiras doses de vacinas fornecidas pelo mecanismo COVAX, que devem ser administradas até ao mês de julho. Daí vamos avançar para vacinar os técnicos e a seguir os grupos de risco. Depois de três meses, isto é até julho, acreditamos que vamos receber da COVAX mais vacinas que nos vão permitir fazer a segunda dose. Neste momento, estamos bastante avançados no processo de compra de vacinas. Recebemos uma oferta da UEMOA no valor de um bilião de Fcfa para comprar vacinas. A União Africana fez um acordo com a Johnson & Johnson para a aquisição de 400 milhões de doses desta vacina e estamos bem avançados no processo de aquisição.
UH – Algumas críticas dos médicos sobre a participação nos trabalhos de combate à covid…
MRCS – Acho que as críticas dessa natureza resultam da falta de informação sobre a selecção das pessoas para os serviços de oferta de testes, a partir do momento em que as fronteiras se abriram e tornou-se obrigatório apresentar o teste negativo de PCR para viajar, num momento em que a capacidade de testagem existente no país tinha chegado ao seu limite.
Daí que foi necessário criar uma oferta de colheita de amostras para garantir a realização de testes para viajantes, que não poderiam viajar sem um certificado negativo. Assistimos às aglomerações no Jean Piaget. Como o Jean Piaget fica longe, decidimos criar um outro centro de colheita mais no centro da cidade e permitir que os técnicos de Jeant Piaget façam o seu trabalho de laboratório. Utilizámos locais como o recinto do liceu Rui Barcelos (Agostinho Neto) que também mostrou os seus limites. As salas eram limitadas. Depois encontrámos o espaço da UDIB. O centro começou a funcionar em Agosto, neste momento podemos afirmar que os trabalhos têm decorrido sem qualquer perturbação, à parte alguns problemas pontuais. Agora os testes são mais céleres e os resultados são emitidos em 24 horas. É bom dizer que as colheitas de amostras não são apenas na UDIB, mas em todos os centros de saúde. Por isso, não é justo afirmar que recrutámos pessoas vindas do nada. São médicos recém-formados, dos quais selecionámos os melhores, em função das suas notas. Eles não vieram substituir ninguém, nenhum técnico de laboratório perdeu o seu emprego por causa da criação do centro de testes da UDIB. Não quero fazer qualquer defesa do AC. Mas não é justo pensar ou afirmar que tirámos as pessoas dos seus postos de serviço. É uma afirmação falsa. Acho que o nosso foco deve ser o combate à COVID. Estamos a falar de uma doença que ainda não tem cura e nem temos solução à vista. Apesar de existir uma vacina que previne a gravidade da doença, temos que continuar a usar máscaras, a lavar as mãos, evitar aglomerações e eventualmente a confinar. Enquanto não existir um medicamento que cure ou previna a infeção, esta pandemia vai continuar a viver connosco. Ouve-se um pouco por todo o país as pessoas a alegarem que não temos mortes como noutras partes do mundo pelo que não adianta os confinamentos. O problema da Covid não é apenas um problema de saúde, mas é um problema económico-social e político, que condiciona as viagens para outros países, causa o encerramento de fábricas, escolas, reduz a emissão de vistos, etc. E mais: temos que nos lembrar que o nosso sistema de saúde é frágil, pelo que os riscos de não se poder salvar vidas é grande. E quando um guineense morre é mau, a família fica desamparada. Quando os casos começam a aumentar, há sempre resistência. Aquando da segunda vaga, quando decidimos encerrar as escolas, havia quem contestasse, considerando que num período com mais casos e mais mortes, as escolas estavam abertas. Compreendemos estes questionamentos. Mas a regra é estancar sempre que nos apercebermos de um aumento dos casos e quanto mais cedo melhor. Nunca é precoce ou prematuro ativar as medidas de prevenção quando há aumento de casos. Uma decisão de saúde pública para controlar uma doença infecciosa, só é boa e útil quando é tomada antes da explosão de números. Se não acontecer antes, porque as pessoas pensam que é prematuro, quando se vai decidir será tarde demais. É bom saber que a mortalidade não aumenta logo no início, mas sim mais tarde. Por isso é que encerramos cedo, e quanto mais cedo melhor, para prevenir as mortes que virão a ocorrer mais tarde. É tudo isso que mostra que precisamos e contamos com todos os técnicos nos seus lugares.